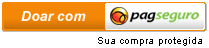Em apenas uma semana, artigos em blogs, revistas e jornais procuraram decifrar o enigma de “carnavalizar a ditadura civil-militar”. Termo difícil de compreender, dada sua natureza contraditória, associando a carne em festa e a carne torturada. E, como toda contradição, seus labirintos conduziram a cobertura midiática à simplificação dos eventos, chegando raramente ao universo mais complexo, onde o ar é rarefeito e onde os processos se iniciaram. Pois é neste ponto onde está a novidade do Cordão da Mentira, onde a estética encontra a política.
A cobertura simples
Há duas maneiras simplórias de se encarar o cordão, dispensando seu processo artístico-político. Duas maneiras que precisam, portanto, ser rejeitadas se o caminho é radicalizar o debate.
A primeira delas procura partir de quem são os atores, quais suas opiniões e o que eles defendem. Exemplar aqui é o relato da Folha de São Paulo (FSP), que, antes mesmo de tudo acontecer, caracteriza o ato como “universitário”. Muito embora sabendo, através de entrevista com membros da organização do Cordão, que a composição do grupo seguia além do campus, Bernardo Franco – editor chefe do caderno “Poder” da FSP – decidiu por bem caracterizá-lo como uma atividade de universitários. Não se trata, pois, de desinformação, mas de mau jornalismo, para não irmos às “vias de fato”. Ora, tratar o Cordão da Mentira como tal tem implícita uma mensagem, que acompanha as páginas deste jornal sempre quando o assunto é “manifestação universitária”: gente jovem e contestadora, geralmente da classe média que pode estudar, que adora uma baderna e outra, ocupando espaços que não deveriam ser os seus, transgredindo a ordem sempre que possível. Nenhuma conduta que a patrulha do tempo não seja capaz de corrigir. Afinal, depois, já formados, estes mesmos jovens ironizariam seus feitos, como algo distante de suas experiências, como muitos ex-guerrilheiros caracterizam suas ações do passado… Trata-se, pois, de uma estratégia que procura reduzir o Cordão a uma classe social com prazo determinado para contestação, deixando de lado outras agremiações e coletivos que participaram do processo de criação estética do Cordão.

- Samba universitário???
Na verdade, o motor do Cordão tinha como combustível não um “samba universitário”, mas, principalmente, a composição de sambistas integrantes de escolas e projetos de samba, batucados por meninos e meninas regidos pelas competentes mãos de Mestre Paulo. Eis o que se deixa de lado.
Vejam, é gente da esquerda falando isso! (Não estamos discutindo, pois, a natureza política, considerando a Carta Capital e o autor anti-PIG´s viscerais). Entretanto, o limite não está em compreender um ato como mais ou menos simbólico do que outro, mas sim, em desconsiderar o Cordão como um todo, dissolvendo a proposta estética no interior de plataformas políticas. Erro clássico das estéticas de esquerda, pois o discurso político assume um vanguardismo às avessas, calando a dialética desta produção cultural própria à diversidade de manifestações populares, como a tradição dos cordões que procuramos recuperar.
No interior desta cegueira do sensível, a armadilha se dá em dois eixos. Um menos perigoso, porém não menos presente. Sua periculosidade é menor porque, desde a Escola de Frankfurt, a esquerda sempre desconfia dos processos criativos e suas apropriações simbólicas pela indústria cultural. Não é a toa que, durante o processo de elaboração do Cordão, fomos procurados por empreendimentos dos mais estranhos, que confundem a carnavalização da ditadura civil-militar com qualquer festa onde ninguém é de ninguém. São produtores culturais, além do bem e do mal, que procuram financiar os eventos, não importando a natureza deles. Procuram intermediar os grupos com as instituições públicas, “facilitando” a realização de seus eventos. Estranhas “OS´s (organizações sociais) culturais”, que administram a cultura como administram hospitais, prisões e escolas em nossa cidade.

Lembrando nossas alianças.
Contrariando esta conduta, optamos desde o início nos afastar de tais empreendimentos, relacionando-nos com outras frentes políticas, encontrando nas próprias pernas de aliados tradicionais, métodos críticos antigos e novos. Sem sindicatos como a Conlutas, não teríamos carro de som; sem o apoio de antigos militantes comprometidos com a crítica à ditadura, caminhos ficariam mais difíceis de trilhar; sem uma juventude anárquica e descrente nasestruturas partidárias, mas não menos comprometidas com projetos estético-políticos como os do Cordão, tudo isso seria impossível; sem diversos Saraus, posses de Hip-Hop e demais coletivos periféricos seria impossível realizar o “Sarau Luis Gama” na abertura do Cordão; sem o apoio dos movimentos de Samba e das Mães de Maio, enfim, não compreenderíamos que a ditadura civil-militar não se restringe ao período descrito nos livros de história, mas faz parte do processo chamado Brasil, desde sua tenra idade escravista até a modernidade bárbara de Pinheirinho e outras chacinas.
Um segundo perigo, este pior, é não fazer perguntas primordiais: afinal, como tudo isso que representa o Cordão da Mentira foi possível? Que tipos de processo alimentaram a relação de grupos tão diversos e, por vezes, divergentes? Questões que procuram deixar de lado quem é o quê, e procura entender de onde vêm os agentes do cordão.
De onde?
Inverter a lógica das narrativas anteriores talvez seja a melhor maneira de compreendermos um processo como o Cordão da Mentira. Expliquemo-nos. Seja a FSP, seja a Carta Capital, bem como em artigos e vídeos publicados em outros blogs de esquerda ou direita que assumiram posições similares às suas respectivas mídias impressas, ambas assumiram a perspectiva política para compreender a manifestação do cordão. Com isso, a arena política e suas velhas formas ficam evidenciadas, tratando o evento ora como um estereótipo da esquerda festiva, ora como um meio novo para propagar antigas críticas da esquerda. Raras exceções, é possível contar nos dedos de uma só mão as publicações que se voltaram para o ambiente estético criado pelo Cordão.
Ora, o ponto de partida que possibilitou o Cordão não é a política que se utiliza da estética para seus discursos, mas a estética que segue em direção à política, providenciando uma nova sensibilidade em um corpo que se manifesta durante um longo percurso, ao som de sambas e com intervenções teatrais, orientando-se por estandartes e reabrindo um mapa esquecido da nossa memória.
Mais ainda, o ambiente do Cordão é uma estética que providencia uma horizontalidade de protagonismos raras vezes vista. Todos os grupos que participaram do processo de criação puderam se sentir representados, na medida mesma em que a base do Cordão foi, em sua maioria, realizada no mesmo plano. Os músicos tocaram seus sambas, acompanhando o cortejo no chão. O sarau, que reuniu diversos poetas das periferias ou de outras gerações de combate, aconteceu no chão. Público e Obra, todos no mesmo nível. Exceção feita às intervenções teatrais ou celebrativas, que ocuparam o espaço que podiam, estando presentes nos desvãos das ruas, no carro de som (ironizando a estética dos palanques), nas placas fixadas nos muros ou mesmo em tradicionais sedes teatrais.

- Estética contra a ditadura de ontem e de hoje
Em meio a tantos coletivos, há uma estética politizante que alimenta que sustenta as ações do Cordão, tal como encontramos em sambas nada irônicos (pois é, nem todos eles o são), mas bem francos em suas mensagens, como o “Frevo da Falha”, o “Camarada Lampião” e o “Novos Porcos”; ou em manifestações mais irônicas como a marchinha “Quem torturou o Zé?” e as intervenções da Cia. Kiwi (em frente à FSP), do Engenho Teatral (no vão da USP/Maria Antonia) e a “Ópera do Bom Burguês” do Estudo de Cena (em frente ao santuário da TFP); ou em celebrações mais solenes como as placas deixadas ao longo do trajeto. Todas estas vozes puderam ser ouvidas no interior da estética performática preparada pelo Cordão. Basta saber para onde estas vozes nos levam…
Para onde?

- Para onde?
Uma destas estruturas, pouco ou nada comentada por qualquer mídia, foi o desvio planejado pelos membros do Cordão da Mentira em frente à antiga sede do DOPS. Ao invés de seguir o caminho natural e dispersar o cortejo carnavalesco diante do atual Memorial da Resistência, o cordão voltou-se para a sede da antiga Escola “Tom Jobim”, atualmente (para nós) Escola Livre de Música “Pato N’Água”. Nesta deriva, havia algo de contundente. Alguns perceberam e reclamaram. Outros sequer entenderam. Poucos (geralmente mais ligados com a história do samba) compreenderam claramente a mensagem. Pato N’Água não era um militante político. Sua consciência se alimentava da trajetória dos antigos cordões, sendo um dos principais líderes da Vai-Vai. Era, portanto, representante legítimo do samba enquanto cultura de encontros e desencontros. Sua morte, entretanto, foi política. Assassinado a tiros pelo esquadrão de morte do Dr. Fleury, não por ser contestador, mas por ser negro, sambista e pobre. É o encontro trágico da estética com a política. Encontro trágico que se repete, não como farsa, na morte de centenas de Patos N’Águas que habitam as periferias ou que circulam onde “não deveriam”. Portanto, Pato N’Água é uma “constelação”, uma destas estruturas simbólicas que é o encontro do passado com a ruína do presente. Constelação que hoje se faz presente quando os grupos dominantes não se contentam em exterminar seus dominados, mas calar toda manifestação cultural que lhes confira dignidade e reconhecimento.
.
Este é apenas um sinal da força crítica que a estética do Cordão possibilita. Um desvio no tempo e no espaço através do conjunto de seus símbolos, expresso não através de discursos, mas pela música, poesia, imagens e alegorias diversas com alto potencial político. Enfim, o Cordão prepara uma luta simbólica contra a força da mentira que se reproduz não apenas no passado da ditadura civil-militar, mas na narrativa de um país que desconhece seu presente genocida. Uma luta de classes que opera no imaginário, sobre o qual também a esquerda precisa espantar fantasmas que rondam sua percepção e sua atitude.
Coletivo Zagaia, com colaboração de Danilo César e outros guerreiros