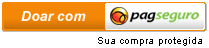Texto originalmente escrito no Blog da Zagaia
“estou convicto de que um divisor de águas está separando, de forma crescente e indestrutível, a imaginação política democrática dos trabalhadores da empulhação sistemática dos que, até hoje, só defenderam a ditadura dissimulada ou aberta dos poderosos.”
Florestan Fernandes, A ditadura em questão
A repressão no Brasil possui diversas facetas, sendo uma das mais cruéis a alienação do patrimônio simbólico através da apropriação das tradições populares por uma elite que insiste em se dizer aliada das classes exploradas. Os grupos da elite brasileira, tanto no campo da direita como no da esquerda, sempre usufruíram deste legado e, para além disso, apoderaram-se e corromperam esta memória.
A história do samba, por exemplo, deixa de ser a história dos populares de origem negra e passa a ser a história do encontro dos negros e brancos no contexto carioca. A fábula antropológica de Hermano Vianna intitulada o Mistério do Samba, obra ícone entre os acadêmicos festivos, reduz a tradição do samba à um mitológico encontro entre Pixinguinha e Gilberto Freyre, que representaria em si a junção entre a cultura negra e a cultura modernista, representante de uma elite progressista brasileira. A fábula é tão bonita quanto falsa, mas isto pouco importa para grande parte de nossos “pensadores”, ávidos por uma antropofagia que tem por modelo menos Macunaíma, e mais seu algoz, o gigante Venceslau Pietro Petra.
O samba nasce, se desenvolve e permanece uma tradição negra, descendente da síncopa africana (como bem explica Muniz Sodré em seu lapidar ensaio “Samba, o dono do corpo”) e tem continuidade nos terreiros, favelas e becos ocupados pelos nossos deserdados da terra. Os homens e mulheres brancos que participam da cultura samba são, na maioria das vezes, pessoas que foram rebaixadas à condição de pobreza reservada à parcela da população “de cor” (entenda-se nesta expressão racista os não brancos – negros, índios e mestiços) ou ainda uma parcela da elite que opta estética e politicamente pela cultura dos marginalizados. Não podemos confundir este extrato com os oportunistas de plantão, sempre ávidos por reproduzir a lógica da Casa Grande e Senzala, munidos das táticas e armas da indústria cultural (seja em seu modelo massificado, seja no modelo biscoito fino).
Assim como a cultura samba, a cultura de resistência e de luta contra a opressão foi simbolicamente extorquida das classes populares na reconstituição do período 1964-1984.
Simbolicamente os populares que lutaram contra a repressão foram alvos preferenciais da tática de vilanização das esquerdas que se tornou corrente em nossos meios artísticos e editoriais. Lembremos da segunda morte do “Companheiro Jonas”, herói nordestino egresso das lutas sindicais, assassinado fisicamente pela ditadura militar na tortura e simbolicamente pelo Clã Barreto em conluio com Fernando Gabeira no abominável filme O que é isso companheiro. Neste filme a escolha por vilanizar o guerrilheiro e humanizar o torturador chocou a muitos. Mas poucos foram os que perceberam que o guerrilheiro escolhido para ser o vilão era o único entre eles de origem notadamente popular.
É sabido que o golpe civil-militar de 64 teve como alvo central nos seus primeiros anos as ligas camponesas, os sindicatos e os militares progressistas. Porém muitos historiadores insistem no mito de que a ditadura brava teria começado somente em 1968 com o Ato Institucional Número 5. Antes um grupo intermediário e moderado estaria no poder. Não se trata aqui de negar a substancial piora da repressão após 68. Mas de lembrar que se o AI-5 de uma forma geral representou o início da violência somente para parte dos extratos médios brasileiros politizados. Para a população pobre não foi um começo, mas um aprofundamento da brutal repressão que ocorria desde o dia Primeiro de abril de 64. O povo negro continuou e continua sofrendo as consequências do golpe militar cotidianamente. Muitas das técnicas de tortura implantadas na época ainda são comuns em nossas cadeias. Os massacres e execuções são, como sabemos, corriqueiros.
O livro Dos Filhos Deste Solo cita um total de 424 mortos políticos pelo regime militar. Parece pouco frente às 492 mortes por execução em São Paulo em Maio de 2006, consequência da reação facínora da polícia aos ataques do PCC. Mas por que não consideramos crime político nos anos 60-70 as ações do esquadrão da morte frente à população marginalizada e as políticas de “higienização” e de apoio à especulação imobiliária na cidade e no campo ao longo de toda a ditadura? Muitos milhares de mortos pelas forças de repressão não foram assassinados por suas ideias políticas, mas por sua existência indesejável frente à expansão do capital. Talvez este seja o legado mais duradouro do golpe de 1964 e o menos comentado.
O apito de Pato N´Água emudecido
É neste contexto que lembramos a figura de Pato N’Água, diretor de bateria do cordão Vai Vai, executado pelo esquadrão da morte em 1969. O laudo pericial foi de infarto. Mas no enterro, sambistas amigos constataram a morte matada. Geraldo Filme compôs em sua homenagem um dos sambas mais bonitos de São Paulo, Silêncio no Bexiga, onde dizia: “partiu, não tem placa de bronze / Não fica na história / Sambista de rua morre sem glória / Depois de tanta alegria que ele nos deu / Assim, um fato repete de novo / Sambista de rua, artista do povo / E é mais um que foi sem dizer adeus…”.
O fato repete de novo. E de novo. E sempre. Há muitos Patos N’águas morrendo cotidianamente pela lógica civil militar que insiste em não acabar. Pela idéia de ordem e limpeza (étnica, sobretudo), pelas práticas de eliminação física dos corpos que impedem o livre fluxo do capital e a explosão dos interesses imobiliários. Assim foi em Carajás, assim foi na Candelária, assim foi no Carandiru, assim foi em Corumbiara, assim é cotidianamente em São Paulo, de Pinheirinho à Cracolândia.
É dentro desta lógica que a revitalização do centro de São Paulo reaparece com a máscara da Nova Luz. A primeira medida governamental foi a eliminação violenta do comércio ambulante e dos prostíbulos e suas meninas. Depois veio a perseguição aos consumidores de crack, seguida da expulsão dos músicos da Rua do Samba, evento mensal que reunia cerca de 3 mil pessoas na rua General Osório (rua que é tradicionalmente um reduto do samba e do choro de São Paulo). Ao lado de onde acontecia o evento instalou-se a “Escola de Música do Estado Tom Jobim”, voltada não para o “samba”, mas para uma música de “nível”! O nome de Tom Jobim é apropriado neste contexto como signo da exclusão: na rua de choro e do samba paulista colocaremos uma escola que representa uma Cultura com “C maiúsculo”, parte integrante do elitizado corredor cultural formado pela Sala São Paulo, Pinacoteca, escola de dança do Estado (ainda em construção), Museu da Língua Portuguesa e, sintomaticamente, o “Museu da resistência” no antigo Deops. Como se a memória dos anos de chumbo não se fizesse presente em frente ao prédio, nas táticas militares de combate aos viciados, aos sambistas, ao comércio ambulante, às crianças pobres e às prostitutas da Boca do Lixo.
O que está presente na limpeza militarizada do centro de São Paulo são os espectros sinistros do delegado Sérgio Fleury, Wilson Richetti e Romeu Tuma. É a continuidade da lógica de massacres e humilhações e de apagamento da memória dos resistentes. Mais do que isso, a limpeza simbólica da cultura do samba na General Osório, mostra o sentido primeiro dos projetos de higienzação – a eugenização do centro.
Rebatismo simbólico para que um fato não se repita
Neste contexto, o rebatismo simbólico da “Escola de Música do Estado Tom Jobim” para “Escola livre de Música Pato N’Água” tem um significado que vai muito além de uma opção musical. Significa resistir à ditadura simbólica da higienização/eugenização bossa nova ao som de um negro partido alto. Significa colorir de preto a claridade da nova luz. É tornar Jobim Antonio Carlos brasileiro. É fazer como fez Glauber no enterro de Di Cavalcanti e sacudir a poeira da institucionalização da obra do grande artista disfarçada em homenagem. E acima de tudo, rebatizar a escola é recuperar a alma do samba sempre presente na Boca do Lixo, valorizar a cultura daquele local, e levar para frente do Deops do delegado Fleury a imagem de uma de suas primeiras vítimas: o sambista Pato N’água. Os bossa-novistas que nos perdoem, mas memória é fundamental. Rebatizar simbolicamente aquilo que nos oprime não é um ato de violência contra os patrimônios culturais, mas é dar voz à imaginação política que encontra na vala de sua luta os milhares de Patos N´águas, morto pelo fato de existir como aquilo que sempre ofendeu as elites: negro, pobre, sambista e contestador.
Coletivo Zagaia